Felipe Miranda: Monte seu próprio COE
Por Felipe Miranda, CEO da Empiricus Research
Ficou descolada no mercado financeiro brasileiro a ideia da “ditadura do argumento”. Você paga de cool e democrático sempre que defende isso. O regime político da busca da melhor solução pela via argumentativa seria superior à anterior “ditadura da chefia”.
Não quero aqui dar lições de gestão ou empreendedorismo para ninguém. Sei bem do meu desprezível lugar no mundo e seria escandalosa qualquer postura diferente. No entanto, a proposta não me agrada particularmente. Bonito de propagar por aí, inócuo ou, quem sabe, até deletério na prática.
Desde que li os textos de retórica de Persio Arida e Deirdre McCloskey, absorvi como o embate argumentativo (a disputa de ideias, teorias ou visões de mundo) não é resolvido por superação positiva. Ou seja, não ganha a melhor proposta, mas, sim, aquela munida das melhores regras de retórica. Assim, se você adota a “ditadura do argumento”, acaba elegendo pessoas, práticas e processos carregados da maior habilidade de argumentar, o que não necessariamente corresponde ao melhor caminho a ser adotado. Collor era ótimo de debates e argumentos; foi um bom presidente?
Acompanhe as carteiras recomendadas de fevereiro
Na Empiricus, seguimos aquilo que batizei de “ditadura do teste”. Não é um nome rigoroso ou preciso, porque nem sempre está associado a um teste estrito.
Nuances de taxonomia e semântica à parte, a ideia central é a de que somos orientados por dados, não por hierarquia de cargos, muito menos por opiniões/argumentos pessoais. Costumo dizer aqui que, dentro da nossa cultura, “ninguém acha nada”. Os números acham por si — e não vale torturá-los para provar o próprio ponto.
“Achei esta publicação boa”, diz um de nossos editores. “Ok que você achou, respeito. Mas qual foi a avaliação de nossos assinantes?”
“Fiquei muito contente com esta nova peça”, afirma um de nossos copywriters. “Tá bom, mas ela vendeu bem?”
“Esta nova campanha será um baita sucesso”, antevê um dos marketers. “Vamos jogar na rua e ver a conversão antes de concluir?”
Assim funciona nossa cabeça. É um exercício diário de deixar os egos de lado e permitir que as forças darwinistas nos mostrem qual é o caminho seguir, sem concepções, achismos e opiniões a priori. A natureza é sábia.
Se o próximo e-mail irá no meu nome, da Luciana ou do João, é a taxa de abertura de uma pequena amostra que vai decidir. O remetente é escolhido pelos receptores; são eles que ditam os próprios interesses, num paradoxo apenas aparente. Aqui, o final, você decide.
Mensuro o sucesso desta newsletter, se fiz ou não um bom trabalho na minha segunda tarefa formal do dia (a primeira é deixar o JP no São Luís), pelo número e pela qualidade dos feedbacks recebidos.
Ontem, ao menos por esse critério específico, obtive êxito. Recebi uma avalanche de comentários positivos em meu e-mail. Houve críticas também, claro. Sempre há — só não tem hater, reclamação e comentário no Reclame Aqui um tipo de empresa: aquela que não existe ou é um fracasso retumbante. Esclareço: eu erro pra caramba e quase nunca estou satisfeito com as bobagens que escrevo. E reitero: estou medindo o texto de ontem com uma única régua, a de quantidade e qualidade dos feedbacks.
Se você não teve a oportunidade de ler o Day One dessa terça-feira, fica aqui o humilde convite.
Se pude notar um padrão associado a essa medida específica de sucesso, ele se relaciona ao quanto o texto é capaz de gerar empatia nas pessoas, o quanto elas se identificam com aquilo, o quanto há ressonância, o quanto são afetadas, na própria pele (ou no próprio bolso), por aquele tema.
A sensibilidade das pessoas ao texto de ontem se deu — e aqui confesso uma momentânea agressão à ditadura do teste, porque não submeti a assertiva ao crivo do teste de hipótese, estando a conclusão amparada apenas na minha própria experiência e opinião pessoal — porque elas já passaram por situação semelhante. Em algum momento de suas vidas, muitos até agora mesmo foram defrontados com investimentos ruins, conflitados e com taxas abusivas cobradas de seus bancos e corretoras.
Pelo que pude perceber, a polêmica maior se dá em torno dos COEs. Os dois leitores mais atentos apontaram:
“A matriz de payoff desse tipo de instrumento não seria talebiana? Em outras palavras, não seria algo alinhado à sua própria filosofia, de que se deve sempre perseguir alternativas em que os ganhos potenciais são superiores aos prejuízos potenciais? O COE traz justamente isso. Pode preservar capital em termos nominais e ainda render um lucro razoável. Pouca perda (até nenhuma nominalmente) e maiores lucros potenciais, não? Lembro que você mesmo já indicou COE no passado.”
De fato, o problema não é do instrumento. A princípio, eu poderia amar os COEs. A estrutura de retornos potenciais se alinha mesmo à minha cabeça. Limita o downside (prejuízo potencial) e se expõe a um grande upside (potencial de valorização). Lindo. Num mundo que não entendemos, cheio de surpresas, incertezas e aleatoriedade, precisamos mesmo evitar exposições a qualquer cenário muito negativo. Sem, claro, abrir mão completamente de potencial de valorização.
Até aí, está limpo. O problema nasce não do produto, mas do quanto se cobra por ele. E a verdade é que as taxas cobradas nos COEs brasileiros, no geral, são escabrosas.
A expressão “no geral” acima é importante. Nem todo COE é ruim ou excessivamente caro. Aqui falo com viés mais abrangente, olhando como classe de ativo ou instrumento. Sempre há exceções. Tem até político honesto no Brasil.
Respeitadas as exceções que comprovam a regra, COEs costumam mesmo ser alternativas ruins ao investidor, ainda que, filosófica e teoricamente, pudessem parecer coisas legais. Na teoria, até o comunismo funciona. Isso porque são carésimos.
A boa notícia é que você pode montar o mesmo perfil de retornos de um COE ou de um fundo de capital protegido por você mesmo. Não gosto muito de punk rock, mas sou adepto do “do it yourself”.
Para construir matriz de payoff semelhante, basta comprar uma ação e uma put (opção de venda) rigorosamente no dinheiro, ou seja, com preço de exercício equivalente àquele que você pagou na ação.
Uma forma prática de implementar a ideia, para você garantir exposição sistemática à renda variável, seria comprar BOVA11 (ou BOVV11, mais barato e mais rentável no longo prazo) e SMAL11, ao mesmo tempo em que se compram as respectivas puts no dinheiro para seis meses de vencimento — não há séries abertas para SMAL11, mas, se pedir, acho que rola de abrir.
Alternativamente, pode-se montar uma carteirinha com Vale, Petrobras e Itaú, em que a liquidez das opções é maior, e comprar as puts associadas. Chega-se ao perfil de retorno parecido àquele dos COEs ou dos fundos de capital protegido, sem precisar pagar taxas escorchantes.
Antes de encerrar, um espécie de nota de esclarecimento. Pelo que me disseram, muita gente ficou dodói nas corretoras com meu texto. Então, imagino que essa mesma gente considere falsas ou, na melhor das hipóteses, inadequadas as palavras escritas ontem.
Assim, proponho um trato, um acordo talvez: as corretoras passam a publicar (no sentido estrito de “tornar públicas”) as taxas embutidas nos COEs, ou seja, tudo o que o cliente está pagando hoje sem ver pelo produto, e eu escrevo aqui uma reparação, com pedido de desculpa, joelho no milho e tudo mais. Farei com prazer e solenidade. Sem isso, nada feito.
Em todas as conversas privadas que mantive sobre o assunto, inclusive com CEOs e fundadores de corretoras, afirmei, olhando em seus olhos sem tergiversar, o quanto considero problemático esse modelo de agentes autônomos.
Repito quantas vezes forem necessárias o mesmo discurso, porque essa é minha opinião — deveria estar claro que sou pago para dar opiniões; esse é meu dever de ofício, que encaro como uma vocação, não há outro. Rigorosamente as mesmas palavras ditas frente a frente, em postura superior àquela dos tapinhas nas costas e dos elogios mentirosos presencialmente acompanhados de críticas e xingamentos por trás, são escritas neste espaço. Valorize quem o critica olhando nos olhos; esses são homens e mulheres de verdade, portadores de hombridade e dignidade.
O desenvolvimento do mercado de capitais no varejo passa necessariamente pela obstinação pelo que é bom para o investidor pessoa física. A ponte de contato humano desse sujeito com a plataforma de investimento não pode ser um vendedor que, em termos práticos, faz também a função de aconselhamento. Isso é ruim para o cliente — e ponto-final.
Não é exclusividade da indústria financeira. Há vários exemplos práticos por aí: do vendedor de roupas que elogia todo figurino vestido no provador ao consultor que cobra por hora (incentivo a gerar demanda para si mesmo), passando pela pessoa que corta o bolo e escolhe qual pedaço vai comer (tendência a querer o maior, principalmente se for meu amigo Andrezão).
E há também vasta teoria, com ampla literatura dedicada ao problema do agente-principal — quem toma decisões (agente) não é o diretamente impactado pelas suas decisões, atitudes ou sugestões (no caso, o principal) — e a outros temas de conflito (não precisa ir longe: o capítulo 1 do livro de Introdução à Economia do Mankiw, adotado amplamente nas faculdades brasileiras, traz um tópico inteiro dedicado ao tema “pessoas obedecem a incentivos”).
Dispenso a retórica politicamente correta de que a participação do agente autônomo é cadente no resultado consolidado das corretoras e que essas instituições se tratam de cases cada vez mais de tecnologia — falemos a verdade: contam com vendedores analógicos travestidos de fintechs. De novo, a estrutura de incentivos importa. E eu me preocupo com conflitos de interesse.
Bicho, meu pai foi agente autônomo por uma década. Eu sei como a banda toca. Sei da competência e da boa-fé da maior parte dos assessores de investimento. Mas a estrutura é torta e a estrutura é… bem… estrutural! Não é um problema das pessoas, mas da essência da coisa.
Não foi à toa que fundei uma empresa que, apesar de seus milhares de problemas e defeitos, foi nascida, criada e multiplicada blindada desses conflitos de interesse.
Repito aqui o mesmo discurso proferido em conversas privadas. O caminho de longo prazo para o desenvolvimento do varejo brasileiro não é ou, ao menos, não deveria ser trilhado a partir da multiplicação do número de agentes autônomos. Essa seria uma estrada ruim.
O caminho de longo prazo, pra mim, passa por muita tecnologia (com personalização das alocações e da jornada do investidor), indicações não conflitadas (exige segregação da equipe de aconselhamento/pesquisa e de venda, em linha com a regulação atual da Europa, do MiFid II) e conhecimento profundo, tanto prático quanto teórico, em asset allocation e gestão de recursos (esclarecimento necessário: nem as corretoras, nem as ditas wealthtechs brasileiras recém-criadas oferecem esse último ponto; não gozam de know-how de alocação de recursos, não têm equipe focada nisso e estão excessivamente preocupadas em oferecer um bom UX para seus clientes — uma empresa de gestão de patrimônio, de maneira surpreendente, deveria estar debruçada fundamentalmente sobre… gestão de patrimônio; a embalagem deveria importar menos do que seu conteúdo).
Em paralelo à tecnologia, defendo a substituição da figura do agente autônomo por aquela do consultor, que também pode criar uma rede grande de relacionamento e manter o contato humano com aqueles que assim desejarem. Modelo sem conflito, tocado por alguém com mais conhecimento em finanças, alinhado ao interesse do investidor, que vai ganhar taxa fixa independentemente de vender esse ou aquele produto. Ganha quando o investidor ganha.
É por aí. O resto vai morrer no tempo. Investidor vai ter muito mais informação. Não vai ficar comprando COE com taxa embutida de 3 a 5 por cento. Esses dias estão contados.

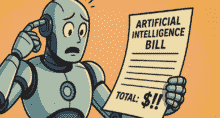

![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)









